
Vivemos um momento histórico:
a derrubada da liderança política e econômica
a derrubada da liderança política e econômica
dos Estados Unidos no mundo.
É um giro geopolítico tão importante
É um giro geopolítico tão importante
como o da queda da União Soviética.
É possível que tenhamos o olhar posto na queda dos mercados,
mas a convulsão que estamos experimentando
é mais do que uma crise financeira.
Estamos diante de um giro geopolítico de dimensões históricas
que está alterando o equilíbrio de poder no mundo
É possível que tenhamos o olhar posto na queda dos mercados,
mas a convulsão que estamos experimentando
é mais do que uma crise financeira.
Estamos diante de um giro geopolítico de dimensões históricas
que está alterando o equilíbrio de poder no mundo
de maneira irrevogável.
A era da liderança mundial dos Estados Unidos,
que começou na II Guerra Mundial, terminou.
Pode-se comprovar isso se se observa
A era da liderança mundial dos Estados Unidos,
que começou na II Guerra Mundial, terminou.
Pode-se comprovar isso se se observa
como o domínio dos EUA
diminui em seu próprio quintal,
quando o presidente venezuelano, Hugo Chávez,
provoca e ridiculariza a superpotência com impunidade.
Mas o retrocesso da posição dos EUA
diminui em seu próprio quintal,
quando o presidente venezuelano, Hugo Chávez,
provoca e ridiculariza a superpotência com impunidade.
Mas o retrocesso da posição dos EUA
no resto do mundo é ainda mais chamativo.
Com a nacionalização de partes
Com a nacionalização de partes
fundamentais do sistema financeiro,
o credo norte-americano do livre mercado
o credo norte-americano do livre mercado
destruiu a si mesmo,
enquanto os países que mantêm algum tipo
enquanto os países que mantêm algum tipo
de controle dos mercados viram-se reivindicados.
É uma mudança de repercussões tão transcendentais
como a queda da União Soviética:
derrubou-se todo um modelo de governo e de economia.
Desde o final da guerra fria,
os sucessivos governos norte-americanos
pregaram aos outros países
É uma mudança de repercussões tão transcendentais
como a queda da União Soviética:
derrubou-se todo um modelo de governo e de economia.
Desde o final da guerra fria,
os sucessivos governos norte-americanos
pregaram aos outros países
a necessidade de se ter sistemas financeiros sólidos.
Indonésia, Tailândia, Argentina e vários países africanos
tiveram que suportar sérios cortes de gastos
e profundas recessões como preço
Indonésia, Tailândia, Argentina e vários países africanos
tiveram que suportar sérios cortes de gastos
e profundas recessões como preço
pela ajuda do Fundo Monetário Internacional,
que colocava em prática a ortodoxia norte-americana.
A China, em particular, sofreu intimidações sem fim
pela debilidade de seu sistema bancário.
Mas o êxito da China deriva de seu permanente desprezo
pelos conselhos ocidentais,
e não são os bancos chineses os que hoje estão quebrando.
Os Estados Unidos sempre tiveram uma política econômica
para si próprios e outra para o resto do mundo.
Durante os anos em que castigavam os países
que se afastavam do equilíbrio orçamentário,
estavam pedindo empréstimos gigantescos
para financiar seus cortes fiscais domésticos
e seus compromissos militares.
Mas agora que as finanças federais
que colocava em prática a ortodoxia norte-americana.
A China, em particular, sofreu intimidações sem fim
pela debilidade de seu sistema bancário.
Mas o êxito da China deriva de seu permanente desprezo
pelos conselhos ocidentais,
e não são os bancos chineses os que hoje estão quebrando.
Os Estados Unidos sempre tiveram uma política econômica
para si próprios e outra para o resto do mundo.
Durante os anos em que castigavam os países
que se afastavam do equilíbrio orçamentário,
estavam pedindo empréstimos gigantescos
para financiar seus cortes fiscais domésticos
e seus compromissos militares.
Mas agora que as finanças federais
dependem por completo de que grandes
remessas de capital estrangeiro sigam entrando,
serão os países que haviam rejeitado
remessas de capital estrangeiro sigam entrando,
serão os países que haviam rejeitado
o modelo de capitalismo estadunidense
os que influirão no futuro de sua economia.
Os detalhes do plano de salvação
os que influirão no futuro de sua economia.
Os detalhes do plano de salvação
das instituições financeiras norte-americanas
elaborado pelo secretário de Tesouro, Hank Paulson,
e o presidente do Fed, Ben Bernanke,
são menos importantes do que
elaborado pelo secretário de Tesouro, Hank Paulson,
e o presidente do Fed, Ben Bernanke,
são menos importantes do que
o que esse resgate supõe em si mesmo
para a posição dos EUA no mundo.
A indignação pela cobiça dos bancos espalhada no Congresso
pode nos distrair das verdadeiras causas da crise.
A grave situação dos mercados financeiros norte-americanos
se deve ao fato de que os bancos trabalharam
para a posição dos EUA no mundo.
A indignação pela cobiça dos bancos espalhada no Congresso
pode nos distrair das verdadeiras causas da crise.
A grave situação dos mercados financeiros norte-americanos
se deve ao fato de que os bancos trabalharam
em condições de liberdade absoluta
criadas por esses mesmos legisladores.
A classe política dos EUA é a responsável pelo caos atual.
Nas circunstâncias atuais,
um fortalecimento sem precedentes do Governo
é a única forma de evitar uma catástrofe no mercado.
A conseqüência, no entanto,
será que os EUA dependerão
criadas por esses mesmos legisladores.
A classe política dos EUA é a responsável pelo caos atual.
Nas circunstâncias atuais,
um fortalecimento sem precedentes do Governo
é a única forma de evitar uma catástrofe no mercado.
A conseqüência, no entanto,
será que os EUA dependerão
ainda mais das potências emergentes.
O Governo federal está acumulando
O Governo federal está acumulando
empréstimos ainda maiores,
e seus credores podem temer,
e seus credores podem temer,
com razão, que nunca lhes serão devolvidos.
É muito possível que o governo
É muito possível que o governo
sinta a tentação de engordar essas dívidas
com um repentino aumento da inflação,
que deixaria os investidores estrangeiros
com um repentino aumento da inflação,
que deixaria os investidores estrangeiros
com perdas consideráveis.
Nessa situação, os governos dos países
Nessa situação, os governos dos países
que compram grandes quantidades
de bônus norte-americanos,
como a China, os Estados do Golfo e a Rússia,
de bônus norte-americanos,
como a China, os Estados do Golfo e a Rússia,
por exemplo, estarão dispostos a seguir apoiando
o papel do dólar como divisa de reserva mundial?
Em qualquer caso, o controle dos acontecimentos
já não está nas mãos dos Estados Unidos.
O destino dos impérios, com freqüência,
é decidido pela relação entre guerra e dívida.
Foi assim com o Império Britânico,
Em qualquer caso, o controle dos acontecimentos
já não está nas mãos dos Estados Unidos.
O destino dos impérios, com freqüência,
é decidido pela relação entre guerra e dívida.
Foi assim com o Império Britânico,
cujas finanças se deterioraram
a partir da Primeira Guerra Mundial,
a partir da Primeira Guerra Mundial,
e com a URSS.
A derrota no Afeganistão
A derrota no Afeganistão
e a carga econômica que tentou responder
ao programa da guerra das galáxias de Reagan
foram fatores cruciais que contribuíram
ao programa da guerra das galáxias de Reagan
foram fatores cruciais que contribuíram
para o desmoronamento soviético.
Apesar de sua insistência em sua excepcionalidade,
nos EUA não é diferente.
A guerra do Iraque e a bolha de crédito feriram
Apesar de sua insistência em sua excepcionalidade,
nos EUA não é diferente.
A guerra do Iraque e a bolha de crédito feriram
de morte a hegemonia econômica.
Os EUA seguirão sendo a maior economia
Os EUA seguirão sendo a maior economia
do mundo durante um tempo,
mas serão as potências emergentes as que,
uma vez passada a crise,
comprarão o que tenha ficado intacto
entre as ruínas do sistema financeiro norte-americano.
Nas últimas semanas,
falou-se muito sobre um apocalipse econômico.
Na realidade, não estamos, nem muito menos,
diante do fim do capitalismo.
O frenesi que se observa em Washington
não é mais do que a morte de um tipo de capitalismo,
a variedade que existiu nos EUA durante os últimos 20 anos.
Essa experiência de laissez-faire fracassou.
Ainda que o impacto da queda
mas serão as potências emergentes as que,
uma vez passada a crise,
comprarão o que tenha ficado intacto
entre as ruínas do sistema financeiro norte-americano.
Nas últimas semanas,
falou-se muito sobre um apocalipse econômico.
Na realidade, não estamos, nem muito menos,
diante do fim do capitalismo.
O frenesi que se observa em Washington
não é mais do que a morte de um tipo de capitalismo,
a variedade que existiu nos EUA durante os últimos 20 anos.
Essa experiência de laissez-faire fracassou.
Ainda que o impacto da queda
se faça sentir em todas as partes,
as economias de mercado que resistiram
as economias de mercado que resistiram
ao desregulamento no estilo estadunidense
contornarão melhor o temporal.
É provável que o Reino Unido,
que se converteu em um fundo de proteção gigantesco,
mas um fundo que carece da capacidade
contornarão melhor o temporal.
É provável que o Reino Unido,
que se converteu em um fundo de proteção gigantesco,
mas um fundo que carece da capacidade
de se beneficiar de uma piora da situação,
acuse especialmente o golpe.
O irônico do período posterior à guerra fria
acuse especialmente o golpe.
O irônico do período posterior à guerra fria
é que a queda do comunismo
foi seguida da ascensão de outra ideologia utópica.
Nos EUA, no Reino Unido e, em menor medida,
em outros países ocidentais,
a filosofia reinante passou a ser um tipo
foi seguida da ascensão de outra ideologia utópica.
Nos EUA, no Reino Unido e, em menor medida,
em outros países ocidentais,
a filosofia reinante passou a ser um tipo
concreto de fundamentalismo de mercado.
A derrubada atual do poder norte-americano
é a conseqüência previsível.
Como o desmoronamento soviético,
terá amplas repercussões geopolíticas.
Uma economia debilitada não pode seguir
A derrubada atual do poder norte-americano
é a conseqüência previsível.
Como o desmoronamento soviético,
terá amplas repercussões geopolíticas.
Uma economia debilitada não pode seguir
sustentando por muito tempo
os excessivos compromissos militares dos EUA.
É inevitável que haja uma redução de gastos que,
seguramente, não será gradual nem bem planificada.
Os processos de crise, como o que estamos presenciando,
não se desenvolvem em câmera lenta.
São rápidos e caóticos,
e têm efeitos secundários
os excessivos compromissos militares dos EUA.
É inevitável que haja uma redução de gastos que,
seguramente, não será gradual nem bem planificada.
Os processos de crise, como o que estamos presenciando,
não se desenvolvem em câmera lenta.
São rápidos e caóticos,
e têm efeitos secundários
que se estendem a toda velocidade.
Pensemos no Iraque.
O êxito do esforço, que foi conseguido
Pensemos no Iraque.
O êxito do esforço, que foi conseguido
à base do suborno dos sunitas e,
ao mesmo tempo, do consentimento da limpeza étnica
ao mesmo tempo, do consentimento da limpeza étnica
que está sendo realizada,
gerou uma situação de paz relativa em algumas partes do país.
Quanto tempo ele durará,
gerou uma situação de paz relativa em algumas partes do país.
Quanto tempo ele durará,
se o nível atual de gasto dos EUA
na guerra não pode mais se manter?
Se os EUA se retiram do Iraque,
o Irã ficará como vencedor regional.
Como ele se relacionará com a Arábia Saudita?
Haverá mais ou menos probabilidades
na guerra não pode mais se manter?
Se os EUA se retiram do Iraque,
o Irã ficará como vencedor regional.
Como ele se relacionará com a Arábia Saudita?
Haverá mais ou menos probabilidades
de uma ação militar
para impedir que o Irã adquira armas nucleares?
Os governantes chineses, até agora,
permaneceram calados diante da crise.
A debilidade norte-americana
para impedir que o Irã adquira armas nucleares?
Os governantes chineses, até agora,
permaneceram calados diante da crise.
A debilidade norte-americana
irá animar-lhes a reafirmar
o poder da China ou continuarão sua política precavida
o poder da China ou continuarão sua política precavida
de “ascensão pacífica”?
Até agora, não se pode responder
Até agora, não se pode responder
a nenhuma dessas perguntas
com segurança.
O que é evidente é que os EUA estão perdendo poder
em uma velocidade enorme.
A Geórgia nos mostrou a Rússia
com segurança.
O que é evidente é que os EUA estão perdendo poder
em uma velocidade enorme.
A Geórgia nos mostrou a Rússia
redesenhando o mapa geopolítico,
sem que os EUA pudessem ser nada mais
do que um espectador impotente.
Fora dos EUA, a maioria das pessoas aceitou,
sem que os EUA pudessem ser nada mais
do que um espectador impotente.
Fora dos EUA, a maioria das pessoas aceitou,
há muito tempo,
que o desenvolvimento de novas economias
que acompanha a globalização diminuirá a importância
da posição norte-americana no mundo.
Quase todos imaginavam que se trataria
que o desenvolvimento de novas economias
que acompanha a globalização diminuirá a importância
da posição norte-americana no mundo.
Quase todos imaginavam que se trataria
de uma mudança em sua situação relativa,
um giro que ia se produzir de forma gradual,
ao longo de vários decênios e gerações.
Hoje, essa hipótese parece cada vez menos realista.
Depois de ter criado as condições
ao longo de vários decênios e gerações.
Hoje, essa hipótese parece cada vez menos realista.
Depois de ter criado as condições
que geraram a maior bolha da história,
os dirigentes políticos dos EUA
os dirigentes políticos dos EUA
parecem incapazes de compreender
a magnitude dos perigos
a magnitude dos perigos
que afrontam agora o seu país.
Envoltos em guerras culturais encarniçadas
e brigados uns com os outros,
parecem não se dar conta de que
Envoltos em guerras culturais encarniçadas
e brigados uns com os outros,
parecem não se dar conta de que
sua liderança mundial está
se desvanecendo a toda velocidade.
Está nascendo um novo mundo,
se desvanecendo a toda velocidade.
Está nascendo um novo mundo,
quase sem que se note,
e, nele, os EUA não são mais
e, nele, os EUA não são mais
do que uma grande potência a mais
entre as várias outras e que enfrenta um futuro incerto,
no qual já não pode mais influir.
O artigo é de John Gray,
autor de “Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia”
[Missa negra: religião apocalíptica e a morte da utopia]
e de “Cachorros de Palha” (Record, 2006),
publicado no jornal espanhol El País, 11-10-2008.
A tradução é de Moisés Sbardelotto.
entre as várias outras e que enfrenta um futuro incerto,
no qual já não pode mais influir.
O artigo é de John Gray,
autor de “Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of Utopia”
[Missa negra: religião apocalíptica e a morte da utopia]
e de “Cachorros de Palha” (Record, 2006),
publicado no jornal espanhol El País, 11-10-2008.
A tradução é de Moisés Sbardelotto.

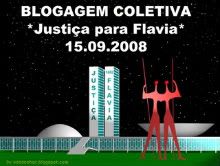
Nenhum comentário:
Postar um comentário